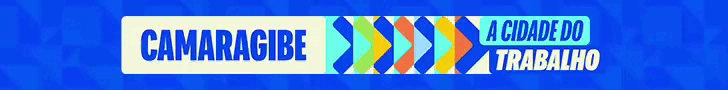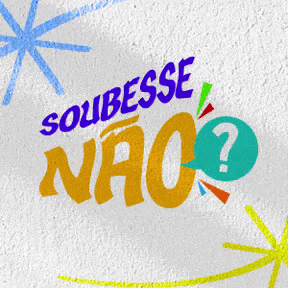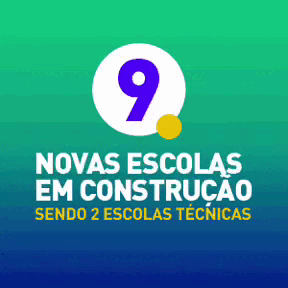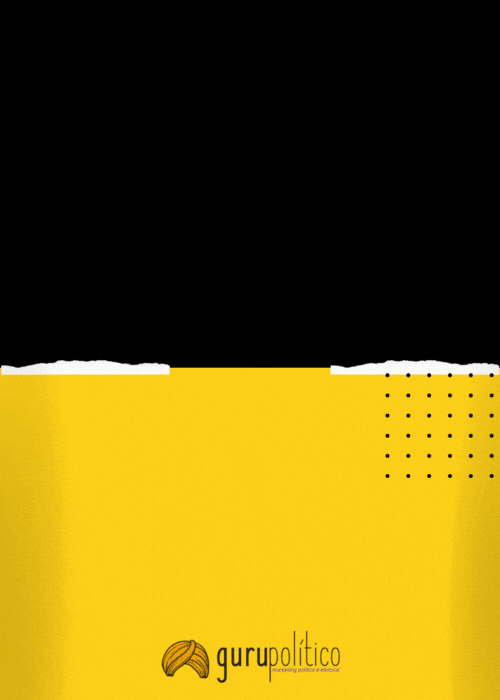O novo coronavírus, aqui em imagem conceitual, matou cinco milhões de pessoas e segue sofrendo mutações. A humanidade ainda tem muitas perguntas a responder sobre ele Getty Images
É bastante provável que o coronavírus já estivesse circulando entre humanos em 2019, mas palavras como Sars-Cov-2 e Covid-19 não faziam parte do vocabulário corrente. Dois anos depois, o surgimento de variantes como a Ômicron, identificada na África, lança dúvidas sobre o futuro.
Quando, enfim, poderemos falar em fim da pandemia? O Sars-Cov2 seguirá evoluindo indefinidamente? Surgirão novas variantes mais letais? Mais transmissíveis?
Se dois anos são nada em termos de história da humanidade — e para o desenvolvimento científico —, a capacidade desse vírus de se alastrar é a única explicação para o novo mundo que está sendo construído sobre os escombros da maior epidemia desta geração.
Com todo o cuidado emprestado da própria ciência — que não tem problema algum em revisitar conceitos, atualizá-los, confrontá-los e, sempre que necessário, corrigi-los —, não devemos esperar a erradicação completa do coronavírus.
O mais provável é que o vírus se torne cada vez mais transmissível e cada vez menos letal. E a humanidade aprenda a conviver com ele, neste tal novo normal.
Pelo menos é o que indica o conhecimento científico acumulado nesse curtíssimo espaço de tempo em que um vírus até então desconhecido passou a infectar pessoas, espalhou-se pelo mundo, matou mais de 5 milhões de seres humanos, precipitou uma corrida inédita pelo desenvolvimento de vacinas, quebrou economias, desmascarou negacionistas e escancarou desigualdades sociais, financeiras e educacionais.
Apesar de o vírus não ser exatamente um ser vivo, seu mecanismo de evolução é muito similar. Esses processos são consequência de aleatoriedades que se adaptam melhor — acidentes bem-sucedidos.
Como explica o médico infectologista e sociólogo Ricardo Palacios, ex-diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan, “não existe vírus inteligente”, portanto esse “não é um processo planejado”. “Acontece por acaso.”

As mutações do coronavírus
“Os vírus se replicam infectando células e gerando um mecanismo de criar cópias nessas células. Esses mecanismos não são perfeitos e muitos erros acontecem no processo, originando mutações. Na maior parte dos casos, esses vírus com mutação não são viáveis. Mas, eventualmente, há mutações que conferem uma vantagem sobre o vírus originário”, contextualiza Palacios.
Um exemplo: se uma mutação torna a versão mais transmissível, ela acaba se replicando mais e mais rapidamente.
“Os vírus evoluem em resposta a pressões do hospedeiro que bloqueiam ou limitam sua multiplicação”, esclarece o farmacêutico Oscar Bruna-Romero, professor do departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia na Universidade Federal de Santa Catarina.
“Existem várias possibilidades de pressão, sendo as mais importantes as celulares, quando o vírus muda para infectar outras células ou hospedeiros, passando por exemplo de um animal para o homem, e as pressões imunológicas, que levam a tentar fugir do nosso sistema imune mudando as partes do vírus que são enxergadas pelos nossos anticorpos e linfócitos.”
De acordo com o professor, se a evolução é algo normal em todos os seres, em vírus se trata de um processo muito acelerado, por conta de “sua simplicidade genética e capacidade altíssima de multiplicação”. Poucos vírus conseguem em pouco tempo gerar bilhões de cópias em um humano infectado.
Reino Unido foi um dos primeiros países a declarar que fecharia as fronteiras para países africanos onde a variante Ômicron foi identificada / Reuters/ Toby Melvill
É por isso que medidas de contenção — distanciamento social, máscaras, higienização — são importantes.
“Se o vírus tiver muita oportunidade de infectar muitos hospedeiros e replicar, ele estará fazendo mais e mais apostas [com o acaso]. Eventualmente, alguma que ele fizer pode trazer algum benefício a ele. E é isso que queremos evitar”, pontua a biomédica Mellanie Fontes-Dutra, coordenadora da Rede Análise Covid-19.
Já que as mutações são obra do acaso, é questão de proporcionalidade. Obviamente quanto mais o vírus se espalha, mais mutações ocorrem.
No caso da Covid-19, os cientistas até o momento identificaram cinco linhagens que foram especialmente bem-sucedidas nessa evolução. Elas foram batizadas com as letras gregas Alfa, Beta, Gama, Delta e Ômicron. Entre os pesquisadores, são chamadas de VOC, da sigla em inglês para “variantes de preocupação”.
Apesar de terem características próprias, elas também não deixam de apresentar mutações. Por isso, os cientistas têm monitorado as subvariantes — pequenas alterações genômicas dentro de uma linhagem —, receosos do surgimento de novas VOCs.
“[As análises] mostram que essas variantes estão evoluindo, criando novos ramos evolutivos, e isso traz implicações tanto na necessidade de vigilância genômica para monitorá-las, quanto na necessidade de implementar medidas mais efetivas para controle dessa transmissão”, explica Fontes-Dutra.
“A subvariante, ou sublinhagem, no geral é uma ‘descendente’ de uma linhagem conhecida”, acrescenta.
No caso da recém-descoberta variante Ômicron, uma das principais questões é verificar se ela irá superar outras cepas.
“Qualquer variante que venha a concorrer com a Delta deverá ter mutações que tragam características de maior transmissão que ela. Essa é a grande preocupação com a nova variante detectada em amostras de Botsuana e que conseguiu substituir à variante Delta na Provincia de Gauteng, na África do Sul” afirma Ricardo Palacios, ex-diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan.

Hipóteses sobre o destino do coronavírus
Na natureza, não tem segredo: sobrevive quem se adapta melhor. No caso de um vírus, isso significa que acabam sendo mais bem-sucedidas as variantes que conseguem infectar mais gente em menos tempo. Elas acabam se sobrepondo às demais e é por isso que a Delta era considerada a dominante em todo o planeta.
Por outro lado, uma alta letalidade não seria um bom negócio: na cadeia de transmissão, em termos frios, um hospedeiro morto não é útil à sobrevivência do vírus.
A boa notícia é que há limites para essa evolução. “Eles chegarão em algum momento no máximo de seu aperfeiçoamento, limitados pela nossa própria limitação biológica como hospedeiros”, diz Oscar Bruna-Romero, que acredita que nos próximos anos o Sars-Cov2 deve “diminuir a periculosidade e manter ou aumentar a transmissibilidade”.
“Microorganismos considerados de muito sucesso, como o citomegalovírus ou o protozoário Toxoplasma gondii, são aqueles que transmitem muito, estão em mais da metade de algumas populações humanas, sem fazer muito barulho — a maioria nem fica sabendo que está infectada”, ressalta.
A análise da Ômicron ajudará a testar a hipótese de que o coronavírus estaria perto de seu limite evolutivo. “Muitas das mutações encontradas nela já estavam presentes em outras variantes. Essa convergência pode chegar a um limiar de estabilização da genética do vírus. Ou seja, atingiu um nível de mutações perto do máximo possível para ter vantagens e dando pouca margem de evolução”, analisa Palacios.
“Mas não sabemos quanto tempo mais será necessário para essa estabilização. Temos pouco tempo de interação com o vírus e a falta de controle em algumas regiões assim como as infecções em outras espécies animais podem trazer novas mutações até o momento desconhecidas. Precisamos seguir acompanhando essa evolução”, pondera o infectologista.
“A recente descoberta da Ômicron deixa em alerta o mundo sobre a possibilidade de termos ainda variantes adicionais emergindo, mas possivelmente a um ritmo menor do que aconteceu no último ano.”
Em artigo recentemente publicado pela Nature (https://www.nature.com/articles/s41591-021-01421-7), o médico virologista italiano Roberto Burioni, professor da Universidade Vita-Salute San Raffaele, em Milão, discorreu sobre o que espera ser uma variante final do coronavírus.
Esse hipotético ápice necessariamente seria o de um vírus com transmissibilidade máxima que, convertido em cepa dominante não permitiria grandes variações futuras.
Segundo o italiano, três cenários são possíveis nesse sentido. O primeiro é o melhor para a humanidade: com a maior parte da população mundial imunizada, o coronavírus não conseguiria evoluir de modo a “driblar” as vacinas.
Seria um game over no mesmo nível já visto por outros vírus conhecidos, como sarampo, caxumba, poliomelite e varíola — a doença até pode resistir e, eventualmente, haver algum surto localizado; mas os vacinados poderiam respirar aliviados, e sem máscaras.
A segunda hipótese de Burioni é que o coronavírus consiga furar o bloqueio da vacina, pagando um preço: sendo menos letal e assim se escondendo de nosso sistema imunológico turbinado pelos imunizantes.
Ele observa que as variantes Beta e Gama são indícios disso. As vacinas atuais blindam menos contra elas, mas quem se infecta com tais linhagens costuma não desenvolver casos graves.

Possibilidade de drible na vacina
Mas nem tudo é otimismo. O italiano também apresenta um cenário preocupante: as mutações seguirem ocorrendo e alguma variante conseguir enganar as vacinas mantendo — ou até agravando — sua transmissibilidade. E, sabe-se lá, até mesmo a letalidade.
Isso exigiria que novas versões dos imunizantes fossem desenvolvidas de modo a proteger também contra essa eventual nova cepa.
Esse aprimoramento de vacinas não é algo inédito na medicina. A campanha de imunização contra a gripe, realizada anualmente, costuma considerar as variantes mais recentes do vírus em circulação.
Se a Sars-Cov2 se tornar algo sazonal, os sistemas de saúde vão ter de contemplar imunização periódica e atualizada da população.
Se por um lado a vacinação é a melhor tática para vencermos o coronavírus, há uma preocupação constante de que, ao conter as variantes já conhecidas, alguma mutação que eventualmente drible a vacina acabe se espalhando mais facilmente — justamente porque as demais são barradas pela imunidade coletiva.
“Essa é uma das grandes preocupações de todos os desenvolvedores de vacinas”, comenta Palacios. “Felizmente, o fenômeno não tem sido descrito com nenhuma vacina até o momento. Todas as hoje existentes possuem uma resposta suficiente para proteger contra doença grave causada por todas as variantes [conhecidas], e nenhuma gerou uma pressão de seleção de uma nova variante.”
Oscar Bruna-Romero acrescenta que, “se acontecerem grandes mudanças gerando novas variantes, estas poderiam conseguir fugir das vacinas [existentes hoje] e se tornarem preponderantes”.
Por isso é importante correr contra o tempo e imunizar rapidamente o maior número de pessoas. Quanto mais gente não vacinada circulando, maior a possibilidade de o vírus ser transmitido à toda velocidade — e mais mutações ocorrerem.
De novo, uma questão matemática: a alta probabilidade de o acaso aprontar e surgir um coronavírus versão mega-master-bláster-plus.
“O mais importante é parar o vírus o mais rápido possível, deixando a menor quantidade de indivíduos suscetíveis à infecção”, defende o farmacêutico.
Da CNN Brasil